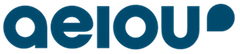Um adeus português


Musk, um dos homens mais ricos do mundo, e um elemento-chave da nova equipa governativa americana, decidiu juntar à sua impressionante ação empresarial a intervenção ativa na política interna de diversos países. No papel de “influenciador” global apoiado pelas redes sociais, desvaloriza fronteiras, e interage com aqueles de que discorda, ou que detesta, quer se trate do líder da direita nacionalista britânica Farage, ou do social-democrata alemão Scholz. Dada a sua história de vida, devemos levá-lo a sério porque estes atos, que parecem insensatos, podem ser o vislumbre de uma nova era.
Vemos assim quebrada a separação hoje existente entre os domínios nacional e internacional na condução da política e da lei, que está delimitada pela ideia de soberania. A constituição de Estados e a atribuição da autoridade a uma pessoa, ou a um coletivo de pessoas, para determinar e aplicar a lei, foi um conceito fundador que marcou a construção das nacionalidades. Os países politicamente estáveis são um universo de partilha de riscos e de vantagens, que os cidadãos reconhecem, e o patriotismo, apesar de ter conhecido melhores tempos, e ter sido parcialmente relegado para os acontecimentos desportivos, ainda existe. É por isso que a relação entre países é gerida de uma forma diferente, e a ingerência noutro país é considerada uma ofensa a esta ordem mundial.
Será que as redes sociais e a globalização digital já erodiram completamente os conceitos de soberania, interesse nacional, e autodeterminação? É verdade que o policiamento do discurso público e a dificuldade de as nações europeias assumirem por inteiro o seu passado e os seus símbolos, é meio caminho andado para o seu fim. É também verdade que a globalização, com todos as vantagens económicas que trouxe, contribuiu para a menorização do valor da solidariedade nacional. Que os grandes fluxos migratórios criam questões adicionais de perca de identidade cultural. E que na Europa a criação incompleta de uma União, de geometria crescente e instável, juntou mais umas achas a esta fogueira, com constantes oscilações entre a europa das regiões e a europa dos países e a inexistência de facto de “patriotismo europeu”.
Não por acaso a ação de Musk acontece ao mesmo tempo em que se observa a erosão do papel mediador das Nações Unidas no consenso entre Estados. A ONU cultivou a igualdade entre as nações como princípio, e as melhores intenções num sentido muito ocidental. Procurou controlar conflitos e proteger populações, foi intransigente nas palavras, e chegou a movimentar forças significativas no terreno, tendo tido um papel central nas últimas oito décadas. Estruturada a partir da correlação de forças que saiu da segunda guerra mundial num mundo muito eurocêntrico, tem-se mostrado incapaz de lidar com os novos poderes, agora que as antigas “potências” defensoras da democracia liberal se reduzem à sua real dimensão.
Com todos os seus defeitos, uma ordem mundial equilibrada precisa de se basear na defesa do valor das nações e da sua cultura, e na procura de entendimentos entre estas e entre comunidades que pensam e agem de forma diferente, aceitando-se essas diferenças. O entendimento pode basear-se apenas na negociação dos interesses próprios, à semelhança do que ocorre no mundo empresarial ou desportivo, ou carregar em si considerações de outra índole: morais, éticas, antropológicas, que sei eu.
O apagamento do papel da ONU e a multiplicação de fóruns alternativos do tipo “G qualquer coisa”, com mais ou menos países é um sintoma de uma doença grave do sistema internacional que urge colmatar.
A intervenção direta de alguém que tem um papel muito importante na administração americana, nas escolhas políticas de países europeus que teoricamente são os seus melhores aliados, parece ser um fator de instabilidade. Poderá ser uma situação pontual, e a marca de um estilo muito pessoal, ou então uma nova regra que se está a consolidar. Na verdade, ocupa um espaço que está vazio, uma autoridade que falta, e ainda é muito cedo para ser qualificada. Cabe à Europa repor a sua autoridade. Cabe a Portugal não esquecer nem a sua ligação europeia nem a sua geografia atlântica.
As nações, como as conhecemos hoje, poderão ser um modelo que a realidade vai ultrapassar. A criação de grandes blocos geopolíticos como atores únicos da política mundial passa necessariamente pelo esbater das diferenças entre as nações que os compõem, reescrevendo-se o passado em nome de um futuro comum. Se tal acontecer uma parte muito importante da nossa identidade e da nossa liberdade ir-se-á perder.
Reclama-se uma nova ordem mundial, mas ela será bem diferente das expetativas. As opções são muitas, mas nenhuma parece realmente melhor que o passado recente. Longe de um sistema assente em democracias liberais, e um mecanismo consensual de resolução de diferendos, todas as opções estão em aberto e todos os fantasmas do passado estão prontos para entrar em cena, e desejosos de o fazer.
Despedimo-nos da herança da Segunda Guerra com um adeus quase de saudade. A implacável “política real” já chegou ao extremo de o Secretário-Geral da ONU ser declarado “persona non grata” pelo governo de Israel, no meio de um conflito onde não conseguiu ter qualquer papel relevante. Movemo-nos num ambiente viscoso de que se não vislumbra o fim. Como num pântano. É difícil evitar a provocação: onde é que já ouvimos isto?